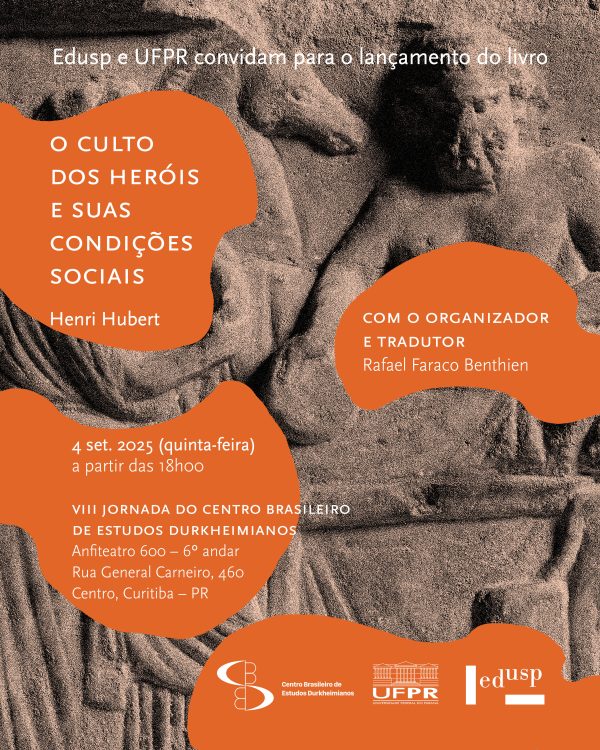Mitologia como espelho da sociedade medieval pela obra de Hilário Franco Júnior
A trilogia “Ensaios de Mitologia Medieval” revela o impacto do período medieval em fenômenos sociais que duram até os dias de hoje
Em Edusp
Por Divulgação
Muitas vezes tratado como mera curiosidade, o tema da mitologia enriquece o estudo da história com uma perspectiva que não pode ser obtida apenas por meio de documentos oficiais, ajudando a pintar um quadro da filosofia e da formação moral do período em que os mitos foram criados.
“A Serpente, Espelho de Eva”, o mais novo volume da trilogia “Ensaios de Mitologia Medieval”, de Hilário Franco Júnior, reúne doze ensaios que abordam a centralidade dos mitos na construção de identidades coletivas, sua importância na historiografia e seus efeitos de longo prazo como pedra basilar na estratigrafia cultural.
Quando se trata de mitologia medieval, as histórias se entrelaçam com o crescimento da importância da Igreja católica e a dominação cultural que essa instituição exerceu, e ainda exerce. Nesta entrevista, o professor e historiador Hilário Franco Júnior explica como os mitos nos rodeiam e moldam nossos costumes, observando como a medievalidade ainda se faz presente em nossos tempos.
O que o motivou a estudar a mitologia medieval e qual é a importância desse tema para os dias de hoje?
Hilário Franco Júnior: “Mito” e “mitologia” são palavras que remetiam, e ainda remetem, para a maioria das pessoas, à Antiguidade pagã, à mitologia grega, à mitologia romana. Por isso, a Igreja, que é a grande instituição da Idade Média e, de certa maneira, formata a cultura medieval, nega que o cristianismo seja uma mitologia. Eu me interessei em explorar essa relação entre o discurso oficial de que o cristianismo não é mitologia e aquilo que os textos e imagens me diziam, tentando trabalhar nessa fresta entre o discurso oficial e o discurso concreto, justamente porque havia, e ainda há, dificuldades e problemas metodológicos. Nos três livros, eu começo sempre com dois ensaios sobre a questão metodológica, sobre formas de entender o pensamento da época, o que é mitologia e o que é cultura popular. E foi por aí que eu fui desenvolvendo temas que me pareciam interessantes de explorar na tentativa de mostrar que existia uma mitologia medieval e que é importante entendê-la como mitologia para que possamos compreender de uma forma mais aprofundada o pensamento da Idade Média.
Como ocorreu essa “desmitologização” e a canonização dos mitos da Igreja?
HFJ: A cultura greco-romana era muito forte, e a Igreja é herdeira dessa cultura em múltiplos sentidos. A própria organização da Igreja na Europa segue a estrutura do antigo Império Romano. O peso da herança romana era muito grande, e a Igreja temia que isso fizesse com que a religião cristã se tornasse apenas mais uma das muitas religiões que havia dentro do império. Era fundamental para a sobrevivência do cristianismo que sua identidade fosse bem recortada e afastada de tudo aquilo que já existia. “Desmitologizar” significa apontar coisas das outras religiões como meros mitos, relatos, histórias para se divertir, que nada têm a ver com o conhecimento de Deus e com o comportamento correto que homens e mulheres devem ter para poder salvar suas almas. A cada elemento que a Igreja detectava nas religiões e na cultura antiga que poderia ser perigoso para a religião cristã, ela procurava desqualificar, criticar e minimizar. Nas religiões antigas, havia centenas e centenas de heróis. Não eram deuses, mas não eram homens mortais comuns. Esses heróis realizavam uma série de tarefas extraordinárias. A Igreja não podia aceitar essa ideia de seres intermediários entre deuses e humanos, mas essa crença era tão forte que a Igreja de alguma maneira precisava aproveitar essa mentalidade, mas dentro de um enquadramento cristão. Assim, determinados indivíduos que tinham uma vida, segundo a Igreja, muito virtuosa, de pureza, de entrega total a Deus, vão ser santificados, vão ser canonizados. Eles não deixam de ser homens, já que Deus é um só, mas são homens e mulheres que estão muito acima da condição comum dos demais. Os santos eram os heróis da Igreja. Essa posição acabou sendo muito contestada: chamar santo de herói seria rebaixar os santos. Foi uma polêmica historiográfica, mas também religiosa. Bem mais recentemente, essa tese acabou sendo reabilitada, e hoje é aceito que os santos são, de fato, heróis dentro do quadro da religião cristã. É por isso que eu digo que o cristianismo é uma mitologia, apesar das tentativas da Igreja de “desmitologizar” tudo.
No livro, você menciona a separação já criada pelos gregos entre muthus (relato descolado da realidade objetiva) e logos (pensamento racional). Como essas questões eram tratadas no conceito medieval?
HFJ: Sim, lá no começo da civilização grega. Isso vale para outras civilizações, mas na grega é especial porque é nela que a questão do logos vai realmente se desenvolver. Os homens sempre quiseram se entender em termos de “quem sou eu?”, e os mitos pretendem justamente apresentar respostas para isso. Mas, em determinado momento nesse longo processo civilizacional, começa-se a perceber que talvez existissem outras maneiras de responder àquelas velhas perguntas. As grandes questões existenciais podem ser resolvidas de uma forma mitológica, com histórias e personagens, mas podem ser também, pelo menos em parte, entendidas de uma forma lógica, racional. Isto é, tendo como referencial o logos, nossa capacidade de raciocínio. Então, entre a vertente mitológica e a vertente lógica, cria-se certo fosso, mas não são paralelos que se acompanham até o infinito. Eles se tocam, se cruzam, e isso vai, conforme os momentos da história, ter um peso maior de um lado ou de outro. Como já falamos, o cristianismo tenta “desmitologizar” toda a mitologia anterior. Ele se pretende racional porque fala do Deus que é a razão, que é o logos. Ele é a causa, e todo o resto são efeitos. Ao longo da Idade Média, temos certos movimentos, certas bolhas culturais ainda muito presas ao lado mitológico e outras mais presas ao logos. Quando a Igreja, por exemplo, critica grupos de cristãos que aceitam determinados dados mitológicos ou valorizam aspectos mitológicos do cristianismo, ela vai dizer que esses grupos são heréticos.
Conceitos muito utilizados nessa trilogia são o pensamento lógico e o analógico. Você poderia explicá-los e falar da importância dessa nomenclatura?
HFJ: Isso é um elemento central para compreender toda essa reflexão e, ao mesmo tempo, é um aspecto que me parece subexplorado pela historiografia, apesar de vários estudos sobre assuntos variados reconhecerem en passant que há um pensamento analógico ao longo da Idade Média. São duas formas de pensar que, segundo me parece, sempre existiram. Não há uma evolução no sentido de que o homem primitivo não pensava em nada, era só instinto, foi desenvolvendo, teve um pensamento analógico, isto é, comparativo, relacional, e ultrapassou essa fase passando a ser racional – e nós seríamos, portanto, o ápice desse pensamento racional. Não é assim que funciona. Nós temos sempre as duas coisas existindo paralelamente, com uma valorização maior de uma forma de pensamento em certa época, sem que a outra desapareça; depois, há uma inversão, mas ambas estão sempre presentes. O que acontece é que o pensamento lógico é algo que as pessoas hoje em dia entendem muito bem, mas o pensamento analógico para a maioria das pessoas soa um pouco estranho. O pensamento analógico é mais complicado e é a forma que predomina em grande parte da Idade Média. É você estabelecer relações de uma forma muito intuitiva, pela observação entre coisas aparentemente distantes, mas que, nessa forma de raciocínio, podem ser comparadas. Então, por exemplo, pensa-se durante muito tempo que o ser humano é o centro do universo. Ora, como é que isso pode ser comprovado? De uma forma lógica, não pode. Já de uma forma analógica, os ossos do ser humano são comparáveis às pedras; o ato de respirar, o fôlego que temos dentro de nós, é o ar; aquilo que nos permite viver, agir, mexer, aquilo que nos anima, isto é, que é a nossa anima, a nossa alma, corresponde ao fogo; o nosso corpo tem, evidentemente, uma grande quantidade de líquidos. Se a natureza é composta de água, ar, fogo e terra, o homem, que tem tudo isso, é realmente o universo em escala pequena. Então, a analogia é fazer esse tipo de comparação. É algo que está presente até hoje nos horóscopos, por exemplo. Eu nasci nessa faixa do ano, que corresponde, em termos do universo, a determinada posição de astros e estrelas. É a correspondência, eu e o signo. Não é lógico, mas ainda hoje é algo importante para muita gente. O pensamento analógico não sumiu. Podemos não perceber, mas muitas vezes trabalhamos de uma forma analógica, o que é perfeitamente natural.
No ensaio que nomeia o livro, você menciona a misoginia do mito adâmico e como que ela foi reinterpretada durante a Idade Média. De que forma a iconografia cristã carregava essa misoginia?
HFJ: Alguns mitógrafos e estudiosos do século XIX imaginaram que, em determinada fase bem inicial da história, havia um matriarcado e, depois disso, foi se transformando no patriarcado, que historicamente é aquilo que a gente conhece desde a Alta Antiguidade. Na época em que surge o cristianismo, nós temos esse patriarcado bem estabelecido. Ele é forte, claro e incontestável. O cristianismo, nas suas raízes judaicas, vai encontrar um mito, o mito adâmico, que é claramente misógino. O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. A mulher foi criada apenas à imagem e à semelhança do homem. Tanto que a mulher sai do homem, é um pedaço do homem, é uma costela. Já na origem temos esse sentido patriarcal e misógino. O cristianismo nascente, respeitando essas raízes mitológicas judaicas e a situação sociológica da época em que nasce, que é a cultura romana, vai prolongando essa misoginia. Existem certas tentativas de olhar de forma um pouco diferente para a questão. O Deus encarnado, por exemplo, Cristo, não aparece do nada como os deuses das religiões pagãs, mas ele surge de uma virgem, de uma mulher. Então o culto da virgem parece apontar para certo respeito ao feminino, mas, se pensarmos bem, isso é muito relativo. A virgem é uma mulher, mas é uma mulher que vai dar à luz sem o concurso do homem. É uma mulher de pureza total que não teve nem as dores nem os prazeres da maternidade. Em última análise, a virgem é pouco feminina. Ela é tão diferente das mulheres comuns que ela própria deixa de ser uma mulher. Então, apesar de o culto à virgem apontar para um novo respeito ao feminino – vemos que a maioria das igrejas do século XII para a frente são Notre-Dame, Nossa Senhora –, esse culto à virgem, como acabei de dizer, tem que ser relativizado em relação à misoginia. E essa misoginia se prolonga até o final da Idade Média. É um culto que acaba, de certa forma, incentivando essa misoginia. E esse ensaio, que é o título do livro, exemplifica bem essa questão porque a serpente que vai tentar Eva tem em sua iconografia o rosto de uma mulher. Na história da serpente, espelho de Eva, a serpente, que é o diabo, o mal, vai levar o ser humano a sair do paraíso; ela é uma mulher que fala com uma mulher, e elas se entendem porque ambas são mulheres. Nesse jogo especular, você tem, talvez, a melhor demonstração dessa misoginia. O feminino é o mal. Foi o mal lá no início que tirou todos nós do paraíso, mas continua sendo o mal, porque pode dificultar que nós tenhamos o comportamento adequado que vai salvar as nossas almas.
O uso da iconografia é extremamente relevante em seu livro, não apenas no conto de Eva. Qual é a importância da documentação iconográfica para o estudo da história medieval?
HFJ: A documentação iconográfica tem sido cada vez mais valorizada pelos historiadores. O trabalho tradicional do historiador era em cima das fontes escritas; depois, percebemos que essas fontes têm uma formatação ideológica muito grande, seja algo da igreja, seja uma crônica encomendada por um rei. Então não se pode ver aquela fonte como algo que traduz toda a realidade daquele momento, mas sim um ponto de vista de um grupo social, de um local. As fontes iconográficas carregam uma riqueza extremamente grande. No caso da Idade Média, os artistas tinham uma liberdade de criação muito maior do que anteriormente se pensava. Alguns historiadores da arte imaginavam que o artista tinha um texto de um teólogo, de um cronista ou de um poeta e teria que simplesmente ler aquilo e repassar na pintura ou na escultura. Mas hoje sabemos que não é assim. Na verdade, quando recebiam a encomenda de um bispo, de um conde, de um abade etc., estes davam o tema, mas a maneira de realizar isso ficava ao bel-prazer do artista. Claro que, em termos formais, ele acaba seguindo o que era o estilo da época, mas nos detalhes ele imagina, ele cria aquilo que lhe parece significativo. Mas a imaginação que cada um de nós tem sobre qualquer coisa não é uma criação que vem do nada. Nós imaginamos segundo o enquadramento cultural da nossa época, e é dentro desse quadro do imaginário que entra a imaginação do artista. Esses detalhes podem ser significativos para explicar melhor determinadas coisas e são extremamente ricos para o historiador. Então, em cada ensaio, há uma imagem que me parece significativa, que me parece explicativa e não apenas ilustrativa, como se fazia antigamente, quando imagens eram pensadas apenas como uma pausa no texto e um descanso para o leitor.
O livro menciona também a importância da mitologia medieval para o contexto brasileiro. Como a mitologia medieval influencia a nossa formação cultural?
HFJ: A ideia de colocar neste último volume da trilogia três ensaios relacionados ao Brasil é justamente para tentar mostrar como a mitologia de maneira geral, mas a mitologia medieval especificamente, é um fenômeno de longa duração histórica que é verificável no Brasil atual, mesmo o Brasil não sendo parte da Idade Média europeia tradicional. Eu trabalho isso de maneiras diferentes em três ensaios neste livro, um falando de saudades, esse sentimento, essa filosofia, essa forma de estar no mundo que é muito forte entre nós e que vem de Portugal, onde saudade tem esse mesmo peso, expressado de maneiras um pouco diferentes, como o fado. A grande música típica de Portugal trabalha muito com essa ideia do fado, e isso foi transportado com os primeiros colonizadores. Quando se instalam no Brasil, eles não fazem uma separação entre a sua vida anterior e a sua nova vida no Brasil, eles trazem a sua cultura, os seus hábitos, a sua maneira de pensar. Com os portugueses, se instala no Brasil uma série de elementos que vêm do Portugal medieval e que vão continuar presentes ao longo da nossa história. Saudade é um deles, mas isto que estamos fazendo agora, isto é, falando em língua portuguesa, é outro exemplo. A língua portuguesa é um produto medieval, nasce na Idade Média. Curiosamente, como eu insisto em um dos ensaios, o português que nós falamos no Brasil é mais medieval do que o português que se fala em Portugal hoje. O cristianismo, forte em Portugal, forte no Brasil, se instala e, mesmo com todas as mudanças que acontecem posteriormente, com certa descristianização no Brasil, esses elementos não são eliminados. E até em detalhes curiosos. Por exemplo, Padre Cícero, muito importante no Nordeste, não é um santo. Ele nunca foi reconhecido como santo pela Igreja, mas ele é um santo no cristianismo popular. Esse processo de canonização fora dos quadros legais da Igreja era uma coisa que tinha sido muito comum ao longo da Idade Média. Durante muitos séculos, não era a Igreja que determinava quem era santo, e sim o afeto popular. Mas isso tomou tais dimensões que a Igreja começou a ficar preocupada com a possibilidade de perder o controle desse processo. Então, a partir de certo momento, a Igreja vai determinar que apenas ela, oficialmente, vai dizer quem deve ser cultuado como santo. É de onde surge o termo “canonização”. “Canonização” quer dizer colocar dentro dos cânones, dentro das regras da Igreja. Mas, veja, a canonização popular do Padre Cícero é uma coisa que reflete o que acontecia na Europa antigamente. Há uma série de elementos desse tipo que acontecem no Brasil. A Idade Média está entre nós a toda hora e em tudo, ainda que nem sempre seja percebida claramente.