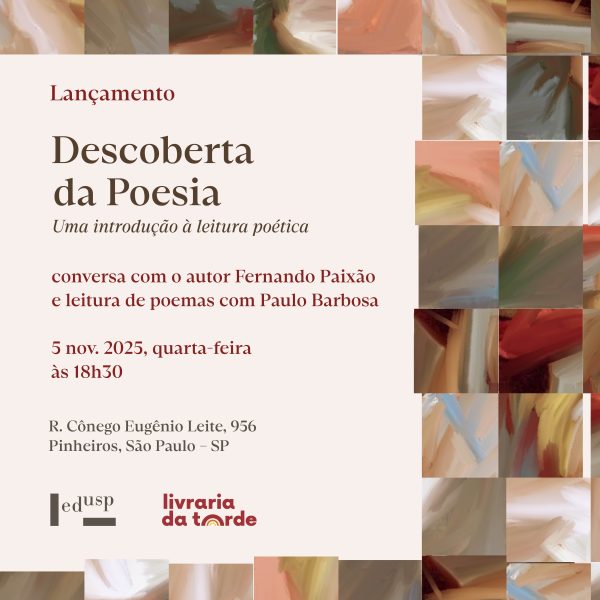As proteções e as restrições aos direitos fundamentais em obra de Virgílio Afonso da Silva
“Direitos Fundamentais: Conteúdo Essencial, Restrições e Eficácia” analisa o alcance dos direitos fundamentais, bem como sua interpretação na jurisprudência do Brasil
Em Edusp
Por Divulgação
“Não se pode afirmar um novo direito em favor de uma categoria de pessoas sem suprimir algum velho direito, do qual se beneficiavam outras categorias de pessoas”, afirma o filósofo italiano Norberto Bobbio em “A Era dos Direitos”.
No debate sobre a defesa dos direitos humanos, o livro de Virgílio Afonso da Silva, professor titular de direito constitucional e coordenador do grupo de pesquisa Constituição, Política & Instituições, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, levanta questões relevantes: se há colisões entre direitos fundamentais, esses direitos podem ser restringidos? Em caso afirmativo, é possível identificar um conteúdo essencial, que não poderá sofrer restrições?
“Direitos Fundamentais: Conteúdo Essencial, Restrições e Eficácia” examina essas questões com base na prática e em teorias jurídicas, especialmente no âmbito jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.
Em seu livro, o senhor afirma que a ideia de que os direitos fundamentais têm um conteúdo essencial vem sendo sustentada pela doutrina e pela jurisprudência brasileira com frequência cada vez maior. Como exemplo, o senhor cita o caso Siegfried Ellwanger Castan. Poderia explicar melhor esse ponto?
Virgílio Afonso da Silva: Esse caso é antigo, de 2003, mas, na época da primeira edição do meu livro, era um caso atual, que marcou certa virada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). A partir do caso Ellwanger, a Corte passou a se preocupar cada vez mais com a relação entre os direitos fundamentais e suas restrições. Antes desse julgamento, esse debate não era muito frequente no STF. Naquele caso, o que estava em jogo era uma restrição a um direito fundamental, a liberdade de expressão. Siegfried Ellwanger Castan publicava livros, próprios e de terceiros, com conteúdo antissemita e de negação do Holocausto. Isso, dependendo da visão que se tem dos direitos fundamentais, é um exercício de liberdade de expressão. A discussão é se a liberdade de expressão protege ou não essa prática, já que a Constituição diz: “é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”. Então, a partir do momento em que um tribunal decide que um livro pode ser publicado e outro não, começamos a lidar com restrições a direitos fundamentais. E, quando pensamos em restrição a direitos fundamentais, a pergunta é: esses direitos podem mesmo ser restringidos? Ou seja, existe algo na liberdade de expressão que não pode ser restringido ou, em alguns casos, é possível proibi-la por completo? Aquele foi um momento em que esse debate foi explicitado, pois o que estava em jogo era a garantia de um direito amplo ou restrito, com uma lei que restringe esse direito; no caso, a lei que proíbe o racismo.
Quais as diferenças entre as Constituições de Brasil, Alemanha, Portugal e Espanha em relação a restrição e regulamentação dos direitos fundamentais?
VAS: Embora essas Constituições tenham sido elaboradas em momentos distintos, parte considerável delas surgiu em situações de transição de regimes autoritários para regimes democráticos. Isso vale para a Alemanha e a Itália do pós-guerra, para países que se democratizaram nos anos 1970 (Portugal e Espanha) e países da América Latina e do Leste Europeu nos anos 1990. Essas Constituições têm uma preocupação maior em reagir aos abusos cometidos nos regimes autoritários, com artigos, parágrafos e normas específicas para lidar com a transição à democracia. A ideia de que os direitos fundamentais devem ter um conteúdo essencial, por exemplo, surge pela primeira vez, de forma mais acabada, em 1949, com a Constituição da República Federal da Alemanha (RFA, Alemanha Ocidental). Essa Constituição foi uma tentativa de evitar a repetição da experiência trágica do Terceiro Reich. E isso aparece em outras Constituições; como os direitos fundamentais são sempre violados em ditaduras, acredita-se que é preciso ter uma norma muito clara e explícita que afirme que os direitos fundamentais, embora possam ser regulamentados ou mesmo restringidos em alguns casos, precisam ter uma garantia de conteúdo essencial. É interessante notar que outras Constituições, como as do Brasil, nunca incluíram um artigo explícito sobre restrição a direitos fundamentais. Já a Constituição alemã, por exemplo, tem um artigo que trata dessas restrições claramente: como podem acontecer, quando podem acontecer, quais são os procedimentos necessários e em que contextos é possível restringir direitos fundamentais e a garantia de um conteúdo essencial.
É por isso que na Alemanha é proibida a existência de um partido nazista, bem como de símbolos que remetam à ideologia nacional-socialista, ao contrário do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos?
VAS: Sim. Na Alemanha, partidos com ideologia nazista são proibidos e negar o Holocausto é crime. Lá existem restrições aos direitos fundamentais? Sim, são restrições a um direito fundamental, a liberdade política. Nos dois casos, a liberdade de expressão é restringida. Então, é impossível fugir da ideia de que direitos fundamentais são restringidos, a não ser que esses direitos sejam construídos de forma tão limitada a ponto de a ideia de restrição desaparecer. Ou seja: há a liberdade de criar partidos políticos, desde que eles não sejam nazistas; existe a liberdade de falar qualquer coisa, a não ser A, B, C, ou D. Mas, nesse direito, seria quase impossível fazer esse tipo de construção. É por isso que a separação entre o que é um direito e o que é uma restrição a esse direito é, na minha visão, fundamental para compreender essa dinâmica. No caso brasileiro, a Constituição garante um direito sem nenhuma ressalva, como, por exemplo: “é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”. Então, ela me garante um direito, mas, mesmo assim, eu não posso falar o que quiser. Por que não? Porque, eventualmente, direitos de outras pessoas podem servir como uma restrição ao meu direito. O que sobra do meu direito? Como testar essas restrições? Essa é a ideia desse debate.
No seu livro, o senhor afirma que no Brasil há uma crença – baseada na dicotomia entre as famílias da “common law” e do direito codificado continental europeu – segundo a qual a jurisprudência vale apenas para o primeiro sistema, mas não para o segundo, e que essa é uma das razões pelas quais a tradição jurídica brasileira se baseia sobretudo na doutrina. Poderia explicar melhor essa ideia?
VAS: Nesse ponto específico, houve uma transformação importante nos últimos anos. A jurisprudência, ou seja, a atividade decisória, especialmente do Supremo Tribunal Federal, foi se tornando cada vez mais importante. O STF, especificamente, tem decidido sobre determinados temas usando as próprias decisões como argumentos para decisões futuras. Isso acontecia com bem menos frequência antes. Um livro de direito constitucional de vinte anos atrás, com raras exceções, não daria muita atenção às decisões do STF. Os tribunais olhavam mais para os livros escritos por acadêmicos do que para as decisões pretéritas. Exagerando, era como se não importasse o que o STF pensava, mas, sim, o que os acadêmicos pensavam. Isso mudou um pouco; hoje, quase ninguém mais discute direito constitucional sem levar em consideração a jurisprudência do STF.
Quais os pressupostos das teorias interna e externa dos direitos fundamentais e como tem se dado sua aplicação no Brasil?
VAS: A ideia da teoria interna é que existe uma coisa só, que é o direito com os seus limites. Então, se existe o direito à liberdade de expressão, esse é um direito que tem limites, mas, se eu me mantiver dentro desses limites, nada pode restringir esse direito. E quais são esses limites? Eles são definidos em abstrato; assim, o direito à liberdade de expressão não inclui ofensas às pessoas, não inclui racismo, não inclui discurso de ódio. Um exemplo didático: toda Constituição garante o direito à liberdade de manifestação. Mas seria possível objetar: o direito de me manifestar na rua não inclui o direito de me manifestar às duas horas da manhã com som alto na frente de um hospital. Portanto, a ideia da teoria interna é definir um contorno prévio do direito que exclui uma série de condutas. Você não tem o direito de ofender outras pessoas, mas na Constituição está escrito que é livre a manifestação do pensamento. Sim, porém a interpretação desse artigo indica que você pode falar algumas coisas, mas não outras. Já a teoria externa separa dois momentos: o direito “prima facie” (à primeira vista) e depois o direito definitivo. Segundo o direito “prima facie”, se a Constituição diz que é livre a manifestação do pensamento, pode-se manifestar tudo que se pensa. Mas é possível mesmo? Se a Constituição não diz que a sua liberdade de ir para a rua se manifestar só vale das oito da manhã às cinco da tarde, isso significa que você pode ir a qualquer horário. Mas, se eu fizer tudo que quiser, vou esbarrar nos direitos de outras pessoas. E, quando isso acontece, é preciso harmonizar esses direitos. A teoria externa separa o momento da definição de um direito, que é muito amplo, do momento posterior, quando esse direito amplo entra em colisão com outros direitos. E aí um deles terá que ser restringido com base em determinados procedimentos delimitados. No Brasil, durante muito tempo se defendeu a primeira visão, segundo a qual os direitos têm os seus limites e esses limites são bem estreitos: você não tem o direito de ofender ninguém, você não tem o direito de se manifestar às duas da manhã. É por isso que no Brasil sempre se teve a impressão de que, se alguma coisa restringe um direito, essa restrição é inconstitucional. Isso é típico da teoria interna: se estou dentro dos meus limites, nenhuma lei pode restringir o meu direito. A teoria externa vê isso de outra forma: a Constituição garante liberdade de expressão ampla, mas a legislação vai restringir isso. É a legislação que diz o que você não pode fazer: caluniar alguém, desacatar, ofender, desrespeitar o silêncio. Essa diferença parece tênue: no fim, parece que chegaremos ao mesmo lugar. Então, quando a teoria interna diz que você não tem o direito de ofender ninguém, a teoria externa se contrapõe: “você tem esse direito, mas ele pode ser restringido”. Sim, chegamos ao mesmo lugar; mesmo assim, o procedimento de justificação das restrições importa, e, quando isso fica explícito, ocorre a restrição. O importante é esse reconhecimento de que há uma restrição que pode, ou não, ser justificada. Mas, quando se diz logo de cara que você não tem o direito de desacatar ninguém, acabou o debate. Aqui há uma restrição que fica na sombra, e eu acho que esse é o grande problema da teoria interna.
Na teoria interna, quem impõe as restrições aos direitos?
VAS: No meu livro eu tento mostrar que, quando a teoria interna tem um aspecto um pouco conservador, no sentido de que sempre fizemos desse jeito, então vamos continuar assim. O desacato, por exemplo, sempre foi proibido; logo, você não tem o direito de desacatar. A definição dos limites dos direitos, de certa forma, é feita por meio de interpretação, de um debate sobre por que desacatar alguém, ou ofender alguém, é um problema. Mas isso é feito sem levar em consideração o contexto. Se é preciso definir os limites antes de as coisas acontecerem, se está basicamente reproduzindo as práticas de sempre, que mantêm o “status quo”. Será que, de fato, eu não posso ofender as pessoas, nem mesmo em determinados contextos? Um exemplo didático: um autor que defenda a teoria interna afirmará que a liberdade de locomoção não inclui o direito de andar nu na rua. Mas há exceções, como uma manifestação que acontece no mundo inteiro uma vez por ano, na qual as pessoas pedalam nuas para protestar contra a falta de espaço para bicicletas. Bem, segundo a teoria, se eu nunca posso sair sem roupa na rua, isso significa que as pessoas que saíram nuas de bicicleta, mesmo tendo uma razão para isso, estão fazendo algo ilegal. Mas, se eu usasse os pressupostos da teoria externa de que primeiro vem a definição do direito amplo e depois, a sua restrição, diria que, se eu sair hoje sem roupa na rua e tiver uma razão para isso, é possível entender que nesse caso sair nu na rua tem uma função. O importante é que fiquem claras as ocasiões em que os nossos direitos estão sendo restringidos e que sempre se exija uma justificação para isso.
A teoria interna afirma que sacrifícios humanos não são garantidos pela liberdade religiosa. Como a teoria externa lida com essa questão?
VAS: A teoria externa transfere, por assim dizer, a restrição para um segundo momento, ou seja, os limites dos nossos direitos não são mais definidos em abstrato, por uma simples interpretação de um texto; essa definição tem que levar em consideração o contexto. No caso do sacrifício humano, podemos chegar à conclusão de que em questões religiosas ele nunca será aceito. Nesse caso, a diferença entre a teoria externa e a teoria interna não é relevante. Mas, se mudarmos de sacrifício humano para sacrifício animal, as coisas ficam mais complexas. Pode-se dizer: a liberdade religiosa não inclui o direito de sacrificar animais. Ponto. Isso é a teoria interna: o seu direito acaba antes. Mas o STF, por exemplo, já decidiu de forma distinta, ao entender que sacrifícios de animais podem ser aceitos nas religiões de matriz africana, mas não em outras. Para tanto, antes temos de aceitar o seguinte: a liberdade religiosa é ampla. Tudo que a religião demanda faz parte da liberdade religiosa, mas, se em determinados contextos isso entrar em colisão com direitos de outras pessoas, teremos que analisar cada contexto para saber se a restrição é justificada ou não. No caso do sacrifício humano, nunca será; no caso do sacrifício animal, pelo menos para o STF, em alguns casos, sim; em outros, não. Porque isso depende do contexto, depende de quão central é esse tipo de ritual para aquela confissão.
No seu livro, o senhor critica tanto a inação quanto o ativismo incontrolado do Poder Judiciário. Como base nisso, como o senhor classificaria a ação do Judiciário brasileiro, particularmente do STF, durante a pandemia de covid-19?
VAS: Na verdade, o debate na época foi mais sobre competências de governos do que sobre direitos: quem (o prefeito, o governador) podia decidir o quê? O presidente da República não queria fazer nada; o governador queria e o prefeito não queria. Então, as decisões mais importantes do STF durante a pandemia confirmaram o poder de algumas autoridades perante outras. O exemplo da pandemia serve para discutir a restrição a direitos fundamentais e a proporcionalidade, porque esse é um exemplo muito claro de restrições a direitos fundamentais que têm que ser aceitas em determinados contextos. Se olharmos a legislação federal do começo da pandemia, verificaremos que ela impunha restrições a direitos fundamentais, como o “lockdown”. E uma das ações do STF foi confirmar a constitucionalidade dessas medidas. O pano de fundo também ilustra muito bem essa relação de direitos e restrições. Vejamos um direito envolvido nessa questão, a liberdade de circulação. A Constituição diz que é livre a circulação em território nacional em tempo de paz. Aí vem uma lei determinando que, por causa da pandemia, as autoridades eventualmente poderão obrigar as pessoas a ficarem em casa. Como lidar com essa situação? Era preciso analisar se essa restrição era adequada, se ela era necessária e se as restrições a determinados direitos eram justificadas pela promoção de outros. No caso, a primeira pergunta é: ao restringir um direito fundamental – a liberdade de locomoção –, o Estado promoveu outro direito fundamental? Sim, a proteção à saúde e à vida das pessoas. A segunda pergunta: essa restrição era necessária? Ou seja, não seria possível atingir o mesmo objetivo sem restringir a liberdade de locomoção? Naquele momento, as coisas eram um pouco nebulosas, mas a maioria dos países considerou que a forma mais eficiente era o “lockdown”, obrigar as pessoas a ficarem em casa. A terceira pergunta: a restrição a esse direito fundamental das pessoas era justificada pelo ganho de proteção à vida e à saúde? Naquele momento, estávamos convencidos de que sim, como estamos até hoje. Na época, o STF defendeu a ação de algumas autoridades que estavam de fato agindo para conter a pandemia. O Supremo sempre é tachado de praticante de ativismo judicial por quem discorda das suas decisões, mas ali a Corte estava garantindo o poder de algumas autoridades de fazer o que tinha que ser feito, porque outras autoridades não queriam colaborar.
Podemos sintetizar sua proposição no livro assim: os direitos fundamentais são amplos, mas podem ser restringidos?
VAS: Sim, defendo que os direitos que a Constituição garante devem ser compreendidos como direitos amplos. E, em princípio, esses direitos não excluem nada, nem mesmo o discurso de ódio. A restrição, quando acontece, deve ser em um segundo momento, de forma explícita. Quando o direito de alguém é restringido, é preciso questionar: isso é adequado? É necessário? É proporcional? Fazer o teste de proporcionalidade e o sopesamento nos permitirá saber se essa ou aquela restrição são adequadas e necessárias.