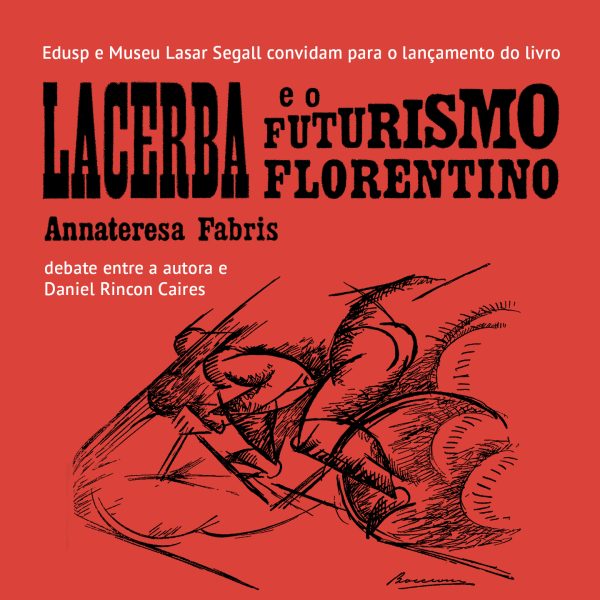A difusão da literatura russa no Brasil em duas obras de Bruno Barretto Gomide
“Dostoiévski na Rua do Ouvidor” e “Da Estepe à Caatinga” analisam o impacto dos escritores russos sobre a crítica literária, os escritores e o mercado editorial brasileiro até o fim do Estado Novo
Em Edusp
Por Divulgação
Desde o final do século XIX, os escritores russos, principalmente Fiódor Dostoiévski e Lev Tolstói, têm fascinado leitores, escritores e críticos literários brasileiros.
Os dois livros citados de Bruno Barretto Gomide, professor livre-docente de literatura e cultura russa na USP e doutor em teoria e história literária pela Unicamp, mostram como foi essa recepção da literatura russa no Brasil em diferentes períodos (de 1887 até 1945), bem como sua influência sobre escritores e críticos, o papel dos tradutores e do mercado editorial brasileiro e a nova onda editorial de traduções diretas do russo a partir do ano 2000.
“Dostoiévski na Rua do Ouvidor: A Literatura Russa e o Estado Novo” e “Da Estepe à Caatinga: O Romance Russo no Brasil (1887-1936)” também mapeiam a diversidade da crítica literária dedicada aos autores russos, a influência da Revolução Bolchevique de 1917 e o impacto do Estado Novo e da Segunda Guerra sobre a divulgação da literatura russa.
Seu livro “Dostoiévski na Rua do Ouvidor” pode ser considerado uma continuação de sua obra anterior, “Da Estepe à Caatinga”?
Bruno Barretto Gomide: De fato, “Dostoiévski na Rua do Ouvidor” é uma continuação do livro anterior e ambos são resultados de teses acadêmicas. O primeiro de uma tese de doutorado defendida na Unicamp e o segundo de uma tese de livre-docência defendida na USP. Foram doze anos de intervalo entre uma e outra. As duas foram publicadas pela Edusp com as modificações necessárias para deixá-las com cara de livro. Os dois livros se complementam, mas há diferenças. A continuidade mais óbvia é cronológica: “Da Estepe à Caatinga” começa pelo final do século XIX, quando há uma grande onda mundial de interesse pela literatura russa, e vai até 1936, antes do Estado Novo, um período de cinquenta anos. Já “Dostoiévski na Rua do Ouvidor” é focado nos anos 1930-1945, um período de 15 anos, o que me permitiu aprofundar temas específicos, como a publicação das obras completas de Dostoiévski pela Livraria José Olympio em 1944. “Da Estepe à Caatinga” foi escrito entre 2000 e 2004, uma época em que a internet já existia, mas não estava tão disseminada; então a pesquisa foi feita no velho estilo, abrindo textos, respirando fungos e usando microfilme na Biblioteca Nacional e em outros lugares. Em “Dostoiévski na Rua do Ouvidor”, embora eu tenha feito ainda muita pesquisa de arquivo, já houve um uso consideravelmente maior de internet para acesso à bibliografia e para fontes primárias, tendo como fonte, por exemplo, a fabulosa hemeroteca digital da Biblioteca Nacional. Existe um trecho no livro que cita crianças brasileiras chamadas Tolstói ou Púchkin, que apareciam em pequenas colunas de jornais antigos e às quais dificilmente eu teria tido acesso se não recorresse a essa ferramenta.
Como explicar o fascínio exercido pela literatura russa – principalmente a de Dostoiévski, marcada por preocupações psicológicas e metafísicas – sobre a intelectualidade brasileira, então muito influenciada pelo positivismo?
BBG: O caso de Dostoiévski me parece muito particular, porque realmente houve um Dostoiévski para cada um. A direita o leu muito, mas a esquerda também o leu – o que é, até certo ponto, surpreendente, pois ele polemizava com as ideias da esquerda russa de sua época, da mesma maneira que Nelson Rodrigues fez no Brasil dos anos 1960. Mas, ao mesmo tempo, podem ser encontrados em Dostoiévski aspectos que favorecem essa leitura mais à esquerda, como sua juventude “filossocialista” e seu lado anticapitalista, antiburguês e utópico, mesmo sendo ele um homem de direita. Assim como houve muitos Dostoiévskis – o médico, o jurista, o sociólogo, o psicopatológico –, também houve muitas leituras positivistas da literatura russa, inclusive da obra dele, o que é em grande medida paradoxal, já que, quando a literatura russa surgiu, ela foi apresentada, principalmente pelos leitores franceses, como uma forma de combater o positivismo reinante. Então, entre nós houve quem fizesse uma leitura científica dessa literatura. Os críticos literários brasileiros tinham essa formação positivista muito forte, já que muitos vinham de faculdades de direito, de medicina, pois na época quase não havia faculdades de letras no Brasil. E, às vezes, por vias que não tinham nada a ver com a literatura, essas abordagens chegavam a conclusões literárias muito interessantes. Aliás, os primeiros a fazer uma conexão entre Dostoiévski e Machado de Assis foram pessoas vindas do positivismo, como o médico Luís Ribeiro do Vale, que em 1917 escreveu o livro “A Psicologia Mórbida na Obra de Machado de Assis”, no qual afirma que Machado e Dostoiévski se assemelham de um ponto de vista médico-psiquiátrico. Dessa forma, com uma pauta puramente positivista, ele chega a uma analogia literária muito instigante.
Qual foi o impacto da Revolução Bolchevique de 1917 na disseminação da literatura russa no Brasil? Como se encaixa nesse contexto o trabalho do crítico Vicente Licínio Cardoso?
BBG: A Revolução Bolchevique de 1917 teve um impacto gigantesco no século XX, e a leitura da literatura russa, evidentemente, também foi influenciada por esse divisor de águas político, geopolítico e cultural. A partir de 1917, falar de literatura russa implicava também falar, em alguma medida, da revolução – alguns falavam explicitamente, outros implicitamente. Não que antes disso a literatura russa não tivesse um horizonte político, como, por exemplo, a questão da Guerra da Crimeia (1853-1856), a onda do chamado “niilismo russo”, os movimentos revolucionários do fim do século XIX e a Revolução de 1905. Mas, depois de 1917, a coisa muda de figura porque temos o tema da exportação da revolução, da formação de partidos comunistas locais. Então, o trabalho do Vicente Licínio Cardoso deve ser visto de acordo com essa chave. Ele escreveu ensaios sobre Dostoiévski e sobre possíveis paralelos entre o Brasil e a Rússia para discutir a possibilidade concreta de ocorrer no Brasil uma revolução como a Bolchevique. De 1917 até 1991 (quando a União Soviética acabou), quase não havia possibilidade de desvincular o interesse editorial ou acadêmico do fator político, que aparecia em maior ou menor grau. Com o colapso da União Soviética, pela primeira vez o horizonte político sumiu do mapa: até há bem pouco tempo, ninguém mais procurava literatura russa para entender a Rússia apenas do ponto de vista político. Mas, depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, em 2022, a referência política voltou à baila.
Qual foi a importância dos principais críticos e divulgadores da literatura russa no Brasil dos anos 1930-1940, como Brito Broca, Otto Maria Carpeaux e Álvaro Lins?
BBG: O que eu tentei fazer nessa pesquisa foi apresentar a diversidade da crítica, mostrando os críticos mais conhecidos e os menos conhecidos. O Otto Maria Carpeaux, por exemplo, é um crítico muito importante, que ajudou a atualizar a nossa crítica. Minha leitura do Carpeaux enfatiza seus méritos ao mesmo tempo que mostra algumas limitações – ponto que suscitou algumas polêmicas, pois indiquei uma apropriação que ele fez do texto “O Narrador”, de Walter Benjamin. Mas é evidente que seria injusto diminuir o trabalho do Carpeaux por esse deslize. Ele escreveu comentários muito bons sobre vários autores russos, apresentou muitos que eram desconhecidos por aqui; enfim, Carpeaux foi um crítico com uma influência multiplicadora. Brito Broca é um caso curioso; ele é mais associado à literatura francesa e brasileira, não tanto à literatura russa. Ele não publicou muitos escritos sobre literatura russa, mas a traduziu indiretamente, produzindo alguns ensaios que tentavam, de forma pioneira, construir uma história da leitura dos russos no Brasil já nos anos 1940. Foi muito importante na divulgação da literatura russa no país. Broca foi um dos que assessoraram a coleção de Dostoiévski da Livraria José Olympio. Já Álvaro Lins nunca chegou a publicar longos textos sobre literatura russa, mas ela está presente nos seus textos políticos de maneira um tanto ou quanto espalhada. Então, a relação dos críticos com a literatura russa variava muito naquela época: alguns tinham uma preocupação monográfica, enquanto outros a colocavam como pano de fundo.
O senhor identifica duas fases da recepção da literatura russa no Brasil nos anos 1930-1940. Pode explicar melhor essas fases e o papel que desempenharam nessa periodização eventos políticos como a decretação do Estado Novo em 1937 e a Batalha de Stalingrado em 1942-1943?
BBG: Depois da Revolução de 1930, com o grande aumento do nosso mercado editorial e em razão de clivagens políticas da nossa intelectualidade, ocorreu o que Brito Broca denominou “febre de eslavismo”. Mas isso também teve muito a ver com imigração, daqueles que fugiam da dupla pressão da Rússia soviética e da extrema direita na Europa Centro-oriental. Esses fatores ampliam o campo de publicação da literatura russa, com a multiplicação de periódicos, editoras. Porém, na metade da década, com o aumento do autoritarismo no Brasil e, principalmente, a partir do Estado Novo, em 1937, há uma interrupção dessa febre da literatura russa no mercado editorial. Esse estado de coisas permanece até 1942, quando o Brasil rompe relações diplomáticas com o Eixo, declara guerra à Alemanha e manda tropas para lutar ao lado dos Aliados. Depois vem Stalingrado, em 1942-1943, o ponto decisivo da virada da Segunda Guerra. Com isso a literatura russa vai voltando, tateando inicialmente e com toda a força entre 1944 e 1945 – esse é o momento em que se pode observar com mais clareza o vínculo entre a conjuntura política e a movimentação editorial. O que tento mostrar no livro é que o fator político foi um imenso facilitador do mercado editorial, mas, ao mesmo tempo, ele se articula com questões, ideias, desejos que já vinham desde o final do século XIX e eram muito caros à cultura brasileira. Meu livro é uma tentativa de amarrar um tempo mais longo àquela conjuntura política imediata.
Embora não fosse muito apreciado pelo regime soviético, Dostoiévski foi o escritor russo mais publicado no Brasil na época, a ponto de a Livraria José Olympio ter iniciado, em 1944, a publicação de suas obras completas. Poderia explicar esse fascínio do Brasil por Dostoiévski?
BBG: É bom lembrar que, quando Dostoiévski morre, em 1881, ele é basicamente um autor conhecido apenas dentro da Rússia, não é um autor com reconhecimento internacional. Sua fama no exterior é póstuma, e ele se torna o autor russo mais lido e comentado fora da Rússia. Ele passa a ser visto como uma mistura de renovação literária e ético-filosófica, trazendo para o leitor não russo o que parecia constituir elementos de uma “russidade”, da “alma russa” – o que, na verdade, é um grande clichê. O interessante é que os russos consideram Púchkin, e não Dostoiévski, o autor mais importante da literatura de seu país. Os russos, inclusive, ficam um pouco chateados com o fato de, no exterior, Dostoiévski ser considerado mais representativo da Rússia do que Púchkin. Fora da Rússia, inclusive no Brasil, até a Primeira Guerra Mundial e a Revolução de 1917, Tolstói era o escritor russo mais presente na mídia, no jornalismo, inclusive porque ele viveu até 1910, quase trinta anos a mais do que Dostoiévski e em uma época em que a literatura russa estava se popularizando. Depois disso, Dostoiévski assumiu a dianteira, porque ele parece mais moderno, parece atender mais à cacofonia do mundo contemporâneo; a dissonância que caracteriza a modernidade está muito mais associada a ele do que a Tolstói. Para os leitores e escritores do Brasil, Dostoiévski parecia alguém que poderia ser imitado, ou seja, se surgisse entre nós um gênio universal indiscutivelmente moderno, mas ao mesmo tempo indiscutivelmente nacional, como Dostoiévski, seria uma referência para nós. Esse é o grande fascínio que Dostoiévski provoca, porque ele é uma revolução, é literatura moderna e ao mesmo tempo o autor mais autenticamente nacional da Rússia.
Essa expectativa da intelectualidade brasileira pelo surgimento de um Dostoiévski foi correspondida pelo romance “Angústia”, de Graciliano Ramos?
BBG: Houve muitos escritores brasileiros comparados a Dostoiévski ou a escritores russos de modo geral. O Lima Barreto é um exemplo sempre lembrado; depois, o Nelson Rodrigues e o Graciliano. Esses três talvez sejam os mais facilmente comparáveis com a literatura russa. E “Angústia” sempre foi comparada às “Memórias do Subsolo”, de Dostoiévski, texto muito em voga na época. Graciliano não gostava dessa comparação, de ser o nosso Dostoiévski, ou pelo menos dizia que não gostava, embora eu acredite que ele devia gostar. Mas, para mim, Graciliano é um “combo” de escritores russos: às vezes ele parece mais com Tolstói, às vezes mais com Górki. O capítulo sobre a morte da cadela Baleia em “Vidas Secas” é um dos trechos mais “russos” da nossa literatura; parece com Tolstói ou Turguéniev. Também parece muito com literatura soviética.
Naquela época, grande parte da tradução de literatura russa no Brasil era feita indiretamente, em geral do francês. Quem foram os primeiros a traduzir diretamente do russo para o português? E qual foi o papel nesse processo do Boris Schnaiderman?
BBG: Você tem toda razão em dizer que a literatura russa era lida em geral de forma indireta, baseada na tradução francesa, mas faço uma ressalva: boa parte dos nossos críticos lia traduções diretas, em francês, ou seja, Graciliano e Lima Barreto liam literatura russa em tradução direta do russo para o francês. Mas realmente a grande maioria das traduções de obras russas no Brasil era feita com base no francês, no espanhol ou no português de Portugal (estas baseadas em geral no francês). Quando começam a chegar aqui imigrantes russos, aparecem as primeiras traduções diretamente do russo. O Boris Schnaiderman não foi o primeiro a fazer traduções diretas; antes, na década de 1930, teve Georges Selzoff. Mas Boris foi o primeiro a traduzir de forma sistemática, com um nível de exigência alto e bons resultados. Na mesma época, Paulo Rónai e Tatiana Belinky fizeram traduções do russo; a Tatiana tem uma tradução extraordinária de “Almas Mortas”, do Gógol, da década de 1970, que é um livro dificílimo. A diferença fundamental é que o Boris Schnaiderman trabalhava de modo mais sistemático: ele traduziu muito, ao longo de uma carreira longa e associada à universidade. Tal vinculação com a universidade fez com que seus textos tivessem uma forte ligação com a formação de alunos. Era muito comum que certas discussões em aula sobre traduções do Boris acabassem virando livro. As traduções dele têm esse cunho diferente, ou seja, a sistematicidade e a ligação com um projeto crítico e teórico que está associado à universidade. Ele tem esse lado duplo, o tradutor e o estudioso.
Há 25 anos surgiu outra onda de tradução de literatura russa no Brasil. Pode-se falar de uma nova febre de tradução de obras russas?
BBG: Creio que sim, e isso tem a ver com uma série de fatores, como o fortalecimento do nosso mercado editorial e um novo nível de exigência das traduções e do papel do tradutor. Tem a ver também com o contexto político a que eu me referi: no passado, a presença da União Soviética ajudava a difundir a literatura russa, mas também era um empecilho, limitando certas escolhas. Já no começo dos anos 2000, as pessoas se sentiam um pouco mais livres para escolher, então algumas editoras passaram a ter um papel importante nessa decisão.
A figura do Paulo Bezerra (tradutor) tem que ser sempre lembrada, porque ele teve a iniciativa de traduzir do russo os grandes romances de Dostoiévski. Só com o Paulo Bezerra tivemos “Crime e Castigo”, “O Idiota”, “Os Demônios” traduzidos diretamente do russo. Já no caso de “Os Irmãos Karamázov”, temos uma situação mais ambígua, porque Boris Schnaiderman tinha feito a tradução na juventude, com pseudônimo, mas era uma edição que estava no ostracismo. Também nessa época foram traduzidos do russo os grandes romances de Tolstói, com o Rubens Figueiredo desempenhando um papel importante. A primeira tradução direta no Brasil de “Anna Kariênina”, na década de 2000, foi obra do Rubens. Então, sem dúvida, os últimos 25 anos marcam um novo momento, com uma nova onda de tradução da literatura russa que é muito estimulante. As editoras têm se mostrado muito receptivas, uma boa tradução do russo não fica sem editora, não fica na gaveta.
O senhor pretende dar continuidade a sua obra, estendendo-a a períodos posteriores ao primeiro governo Vargas?
BBG: Agora estou preparando uma biografia intelectual do Boris Schnaiderman. Acredito que é uma coisa para mais um ano, talvez dois, no máximo. O acervo do professor Boris, depois que ele faleceu, foi doado para a USP, está em processo de sistematização e logo vai ser tornado público. Boris foi um personagem extraordinário; estou fazendo boa parte da pesquisa com base no acervo e na documentação dele. Então, ela cobre esse período pós-Vargas, mas também o próprio governo Vargas, já que o Boris viveu intensamente essa época. Tenho a impressão de que até o final da vida ele tentou ajustar contas com esse seu período de formação – Boris tinha de 20 a 28 anos entre 1937 e 1945. A universidade dele – não só a universidade real, que foi a faculdade de agronomia, mas também sua formação espiritual e literária – foi feita durante a Era Vargas e esse período do Estado Novo. Ele passaria o resto da vida tentando ajustar as contas com a cultura, a política e a sociedade brasileira dessa época.