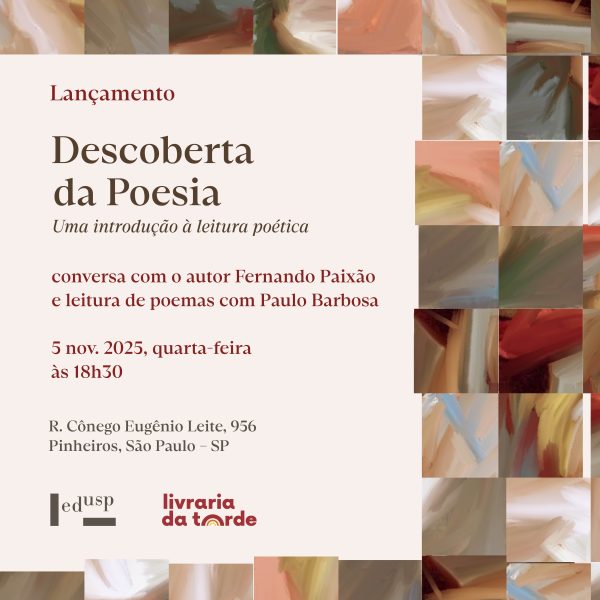Fernando Novais reflete sobre a história do Mediterrâneo segundo Braudel
Em entrevista exclusiva, o historiador brasileiro examina a obra de Fernand Braudel, com destaque para o celebrado "O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrâneo na Época de Filipe II"
Em Edusp
Por Divulgação
O historiador francês Fernand Braudel (1902-1985) passou anos estudando, escrevendo e revisando para produzir seu monumental O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrâneo na Época de Filipe II. Grande parte da obra foi elaborada durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto o autor era prisioneiro na Alemanha, contando apenas com sua memória e seu conhecimento acumulado. Esses esforços resultaram em uma publicação que marcou o campo da história.
Os dois volumes, reeditados pela Edusp, reúnem vasto conhecimento sobre a região do mar Mediterrâneo durante o reinado de Filipe II na Espanha, que durou de 1556 a 1598. O historiador e Professor Emérito da USP Fernando Novais concedeu uma entrevista para a Edusp sobre o livro e o impacto do trabalho do autor.
Novais faz um mergulho na obra de Braudel, resgata sua participação nos anos iniciais de formação da USP e reflete sobre o campo da história. Estabelecendo relações entre o francês e os outros historiadores de sua época, como os colegas da Escola dos Annales, e até mesmo relatando sua experiência pessoal com o autor, Fernando Novais empreende uma rica jornada história adentro.
Qual a importância da experiência de Fernand Braudel no Brasil para sua obra e para a formação da Universidade de São Paulo?
Fernando Novais: Esse é um assunto para nós muito importante. Braudel foi professor da USP durante três ou quatro anos e teve uma importância fundamental para a construção da história da universidade pelo que ele viria a ser, pois, quando veio, não era ainda uma figura exponencial da historiografia em geral. Essa é uma das ironias que nós, brasileiros, tendemos a divulgar, sobretudo a respeito da USP, que teve o privilégio de contratar gênios franceses, como Braudel, Claude Lévi-Strauss, Roger Bastide e tantos outros. Na época, eles tinham vinte e poucos anos e estavam desempregados. Depois, eles se tornaram reconhecidos. Talvez o melhor professor fosse, pelos depoimentos posteriores, Jean Maugüé, de filosofia, que não fez carreira. Na velhice, Maugüé escreveu o livro de memórias Les dents agacées (Os Dentes Agastados), em que diz que na época de formação, quando veio para cá, entendia que uma pessoa só pudesse fazer uma tese de filosofia associada à experiência que ela estivesse vivenciando. Então, ele entendia Lévi-Strauss pesquisando os indígenas, entendia Pierre Monbeig estudando a frente pioneira, mas não entendia Braudel estudando o Mediterrâneo. Na realidade, é possível fazer uma pesquisa independentemente de onde o pesquisador esteja. Àquela época, Lucien Febvre e Marc Bloch já haviam criado a revista acadêmica Annales, cujo princípio fundamental era a questão das durées, das durações, e isso independe do local do pesquisador. Isso mostra como foi importante a estada de Braudel no Brasil, exatamente porque o Brasil é muito diferente do Mediterrâneo e, ao mesmo tempo, é muito semelhante a ele. O Brasil é fruto da colonização, está dentro e fora ao mesmo tempo. Aqui nós somos a Europa, mas também não somos, é complicado. Braudel, que era uma pessoa que gostava de causar impacto, disse uma vez que se tornou inteligente no Brasil. Os brasileiros acham isso fantástico e as pessoas de outros países por onde ele andou ficam irritadas.
Como foi a relação de Braudel com a história, a historiografia e os outros historiadores franceses que lecionaram na USP?
FN: Ele era muito próximo de Monbeig, que lecionou na USP por onze anos, diferentemente dele e de Lévi-Strauss, que ficaram por menos tempo. Lévi-Strauss também tem um livro de memórias maravilhoso, Tristes tropiques. Eu menciono isso no prefácio do 2º volume dos Écrits sur l’histoire (Escritos sobre a História II), obra em produção pela Edusp. Um deles, entre Lévi-Strauss e Braudel, é sobre estruturalismo e história. É um texto muito importante, em que nenhum dos dois consegue se explicar bem. O que eu acho fundamental entender é que o estruturalismo não quer dizer que o discurso historiográfico seja impossível; quer dizer que ele não consegue ser científico, porque o estruturalismo analisa, no limite, as situações de sincronia, e a história é pura diacronia. A história é maravilhosa, mas não é científica. No debate, Braudel argumenta que, se tudo é história e a história não pode ser científica, então o que não existe é a ciência. E os dois ficam nesse embate. Mas eles se consideraram sempre, foram amigos até o fim. Os dois participaram da fase heroica da fundação da Universidade de São Paulo e da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras – hoje a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) –, com o objetivo de transformar as escolas profissionais em universidades.
Como a criação da USP se inseriu no contexto geral da formação das universidades?
FN: A ideia consensual sobre o aparecimento da universidade no começo do século na Europa, sobretudo em Paris, na França, e em Bolonha, na Itália, envolvia três faculdades ou capacidades de indagação: teologia, para falar com Deus; ciências, para estudar a natureza; e letras, para estudar as humanidades, aquilo que não é da natureza. Afora isso, há duas escolas, que não são faculdades: a escola de medicina e a escola de direito. Escola de medicina porque o sujeito, para falar com Deus ou estudar a natureza e as humanidades, precisa estar vivo. E escola de direito porque ele precisa ser um cidadão da pólis e viver numa sociedade juridicamente ordenada. A escola politécnica não fazia parte da universidade. Até hoje, a École Polytechnique não faz parte da Universidade de Paris. É nos Estados Unidos que surgem as faculdades de engenharia, e depois, por imitação, aqui também. Mas permanece a ideia de que é fundamental ter as três principais: teologia, ciências e letras. Havia várias escolas eclesiásticas, e a ideia de organizar os cursos ocorreu tanto em Paris quanto em Bolonha. Em Paris, foi iniciativa dos professores, partindo do cônego Robert de Sorbon. A universidade era uma pensão onde o sujeito era orientado para o curso que faria. E quais eram as condições para entrar lá? Primeiro, só homens podiam. Segundo, eles tinham de ser cristãos. E terceiro, precisavam saber latim. Isso fez com que, em Paris, o forte fossem as faculdades de teologia, depois filosofia, ciências e letras. Em Bolonha foi ao contrário: foi uma iniciativa dos alunos, que contrataram professores para essa função. Também era a ideia de uma pensão. Para entrar, as condições eram semelhantes: não podia ser casado; tinha de ser clérigo (não precisava ser padre, mas tinha de ser clérigo); e tinha de saber latim. Eles dirigiam as pessoas e a casa e contratavam professores. Por isso, direito e medicina são mais importantes na Itália do que na França. Dizem que isso se deve ao direito romano; também, mas não é o ponto fundamental. Lá, a iniciativa partiu da organização dos estudantes.
Como eram as discussões acerca do estudo da história na época de Braudel e como essas discussões ocorrem hoje?
FN: Havia um problema que era discutido em um grupo da Escola dos Annales, com a qual Braudel se envolve por conta da relação dele com Lucien Febvre, um de seus fundadores. É o problema da especificidade da história. A história tem dois sentidos: o acontecimento e a narrativa desse acontecimento. Isso é consensual e faz com que exista, de certa forma, a “história 1”, que é o acontecer humano, e a “história 2”, que é a sua narrativa. Isso tem implicações. O acontecer humano se dá em qualquer lugar, em qualquer tempo, e isso significa que o objeto da história, como realidade, é impossível de delimitar. O fato de um acontecimento não ter sido tratado por um historiador não quer dizer que ele não parte da história. A “história 2”, a narrativa do acontecimento, é muito antiga. Começa com a pólis grega, ao mesmo tempo que o discurso mitológico, o mythos, se descola do lógos. No século V a.C., aparece o discurso do historiador, que se distingue dos mitos, porque a história está ligada à temporalidade. O mito já aconteceu, está acontecendo e sempre acontecerá, porque está fora do tempo. Ao contrário do discurso sobre o que aconteceu, porque isso significa que o historiador corresponde a uma necessidade, que dizem ser a da constituição da memória. Todos necessitam de memória social. Quando se diz “o Brasil é um país sem memória”, é uma bobagem. Não existe sociedade sem memória. Só que em algumas há mais, em outras menos, e algumas cuidam melhor de sua memória do que outras. Mas a diferença entre mito e história é a temporalidade. É uma implicância que tenho com Hayden White, um teórico importante da história: ele dizia que não há diferença nenhuma entre literatura e história, que tudo são narrativas. Isso seria a morte da história. As novas gerações, sobretudo, apreciam muito White. Eu costumava usar este argumento: se não há diferença entre a linguagem do mito e a linguagem da história, isso vai gerar desemprego na malta dos historiadores. Aí todo mundo fica preocupado! White era um grande historiador, mas um péssimo teórico da história, e precisamos falar sobre essas coisas com clareza. Ele fez seu discurso e todo mundo ficou encantado. Era uma série de tolices, ainda que ele tenha bons trabalhos na história.
Como se dava a relação da história com as ciências sociais?
FN: No fim do século XVIII, durante o século XIX e até a Belle Époque, constituem-se as ciências sociais, que teorizam as esferas da existência, um conceito weberiano, para explicá-las. Isso teve um grande impacto sobre a história: há uma influência das ciências sociais sobre a história, mas não o contrário. Qual foi esse impacto? Os historiadores começaram a buscar não só narrar o que aconteceu, mas também explicar o que aconteceu. A história era considerada um gênero literário, e os historiadores passaram a querer ser cientistas. Por quê? Porque, no século XIX, quem não fosse cientista não existia. Por isso Marx disse que o materialismo histórico é a ciência da história. Os historiadores podem ser grandes escritores. Em História da Literatura Ocidental, de Otto Maria Carpeaux, os últimos historiadores mencionados são Jacob Burckhardt e o grande Numa Denis Fustel de Coulanges, de La cité antique (A Cidade Antiga). Porém, raro é o historiador que escreve bem. Por exemplo, Braudel é um grande escritor. Na “história 2”, contemporânea e moderna, há uma tensão necessária entre narrar e explicar. Às vezes, falam que quem descreve é o geógrafo, e o historiador fica entre narrar e explicar. É esse o problema dos historiadores franceses nos anos 1930. Como encontrar o equilíbrio? A solução deles é definir a duração como parte do recorte do objeto, algo que corresponde à conceitualização na ciência: longa duração, média duração e curta duração em história. Na “história 2”, história de discurso, isso corresponde a estrutura, conjuntura e acontecimento. O problema é que, nas ciências humanas, o pesquisador recorta uma esfera da existência e a conceitua. Como a história trata de todas as esferas da existência, seria preciso usar outros conceitos ou adotar os conceitos da ciência social que correspondem ao tema escolhido. Se o sujeito está fazendo história política, por exemplo, ele toma a ciência política. Se ele está fazendo história econômica, ele toma a teoria econômica. Quanto mais rigoroso o recorte do objeto, maior a cientificidade das ciências humanas. Só que o acontecimento sempre está em todas as esferas da existência. O sujeito planta uma batata e isso pode ser um fato religioso. Na Índia, se você está morrendo de fome, não pode matar uma vaca, porque ela é sagrada e a religião proíbe. Então, isso é um problema religioso. A história e o discurso historiográfico podem ter reflexões teóricas. Em história, não existem cientificidades, existem aproximações. São as três durées, as três durações, e como elas se articulam entre si. Até hoje esses problemas não estão resolvidos. O que nós fizemos no prefácio de Écrits sur l’histoire II foi abordar essa relação com as ciências sociais, porque isso abre espaço para um diálogo entre os cientistas sociais e os historiadores.
De que forma essas interações entre a história e as ciências sociais ocorrem na obra de Braudel?
FN: Quando o historiador começou a querer ser cientista, a forma desse trabalho passou a ser narrativa e explicativa. Nunca se chega a algo, só é possível se aproximar desse algo. Isso é diferente nas ciências sociais. E isso aparece na grande obra da vida de Braudel: Civilização Material, Economia e Capitalismo. São as três durées: estrutura, conjuntura e acontecimento. Eu aproximei esse texto de outra obra de mesmo porte, O Sistema-mundo Moderno, de Immanuel Wallerstein, que também tem três volumes. Wallerstein é sociólogo e cientista político. O que distingue os dois? Eu digo que Wallerstein é ciência social retrospectiva, enquanto Braudel é história. Isso aparece no confronto entre essas duas obras. Ambas realmente fazem a mesma coisa, mas o objetivo de cada uma é diferente. O objetivo do historiador é a reconstituição do acontecer; o objetivo do cientista social é desenvolver aquilo que, no final, será uma teoria que explica toda aquela esfera da existência. Posso dar exemplos: se nós tomarmos a Revolução Francesa, podemos comparar a obra La Revolution française (História da Revolução Francesa), de Albert Mathiez, com As Origens Sociais da Ditadura e da Democracia, de Barrington Moore Jr. A diferença é brutal. É evidente que a de Mathiez é muito melhor. Ele participa daquilo, e Moore não. Qual é o objetivo de Mathiez? A Revolução Francesa. Qual é o objetivo de Moore? Uma teoria da revolução. Aliás, é por isso que ele escolhe cinco ou seis revoluções. E pode-se inverter o exemplo, com casos em que os cientistas sociais funcionam melhor. Se nós pegarmos a formação econômica do Brasil através da obra de Caio Prado Jr. e de Celso Furtado, não haverá dúvida alguma de que Furtado é superior.
Como o marxismo tratou dessas diferenças entre a história e as ciências sociais?
FN: Braudel e Wallerstein, que foram amigos, citavam um ao outro em seus livros com frequência, e quase sempre tinha a ver com a proposta do marxismo. Isso porque o marxismo é uma maneira de superar o problema fundamental da historicização de conceitos. Marx dizia que fez a ciência da história. Ele apresentou o conceito de modo de produção. Mas como você parte do modo de produção e chega ao acontecimento? Isso é dificílimo, depende do talento do historiador. É por isso que eu menciono Marx ao comparar as obras de Braudel e Wallerstein. Nós temos visto uma volta dos estudos sobre o marxismo, o que é notório nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil. Existe certa ironia no primeiro volume de Civilização Material, Economia e Capitalismo, porque há uma nota sobre o marxismo em que Braudel diz que Karl Marx nunca usou o termo “capitalismo”; ele só usava a expressão “modo capitalista de produção”. Braudel fazia questão de mostrar seu conhecimento, mas aceitava discutir com Wallerstein. Por sua vez, Wallerstein sempre citava Marx como autoridade, para mostrar que ele já havia escrito sobre determinada ideia, mas Braudel lamentava, dizendo que era por acaso que Marx acertava.
Como foi seu contato com Braudel?
FN: Eu tive contato com ele em 1965. Foi a primeira vez que fui à França. Estavam lá amigos que eu conhecia daqui, e disse que estava com uma carta do professor Eduardo França para Braudel. Mas era mais fácil falar com o general De Gaulle, que era o presidente francês na época. Certo dia, fui jantar com Maria Yedda Linhares, então professora de história moderna na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e estava exilada após o golpe de 1964. Comentei que eu precisava entregar a carta a Braudel e ela telefonou para ele, que marcou para o dia seguinte na casa dele. A conversa, no início, foi complicadíssima. Ele viu que eu estava com dificuldade e falou que podíamos conversar em português. Mas percebi que em português não aconteceria nada, porque ele falava pessimamente. Depois de todas essas confusões, ele pediu que eu explicasse qual era a minha tese. Fui explicando, ele prestou muita atenção e falou: “Vou lhe fazer três observações. Eu percebo que você gosta do marxismo, mas isso não tem a menor importância, porque todos buscamos compreender a história”. Ele fez as observações, uma tópica de documentação, e duas a respeito de como eu estava pensando em organizar as informações, de que ele gostou. Começa no nível dos acontecimentos e tem um segundo capítulo, sobre a estrutura dinâmica do sistema colonial, que é a longue durée (longa duração). Ele até mencionou que o livro dele começa pela longue durée e que gostou da ideia de começar pelo nível da curta duração. Eu cheguei às três horas da tarde e, em torno das sete horas, a esposa dele, Paule Braudel, que eu não conhecia, pediu a Fernand que me convidasse para o jantar. Mas eu disse que não podia e fui embora rapidamente. Quando contei isso para os meus colegas, ficaram morrendo de inveja.
Qual a importância de ler Braudel e outros historiadores hoje em dia?
FN: Essa é uma questão difícil. Eu acho que a leitura está em declínio. Já começou antes com o término da “Galáxia de Gutenberg”, com a televisão. A imagem é mais importante do que o texto. Isso se completa com o digital, o livro digital. E o final de tudo é a inteligência artificial. Acho que fica complicado porque podem surgir mais mudanças e imprevistos. Mesmo assim, todas as vezes que eu volto à universidade, fico gratificado, porque vejo que consigo ter um diálogo com as novas gerações. Discutir Braudel é algo que acontece mais quando tenho contato com pós-graduandos. Mas o professor Pedro Puntoni, que foi meu orientando e ministra uma disciplina sobre o Brasil Colônia, sempre me chama para a última aula do período, em que faço uma discussão sobre o sistema colonial e a Independência. Fico entusiasmado e também fico envaidecido, porque os alunos gostam da aula e se interessam efetivamente. Depois, fico conversando com eles, isso é ótimo. A USP e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) estão entre as melhores universidades do Brasil, atraem os que se interessam pelas coisas.